Estamos de volta à Terra-Média. Sessentas anos antes
dos acontecimentos que levaram Frodo e a Sociedade do Anel à jornada para a
destruição do Anel do Poder, uma grande aventura bate à porta do jovem Bilbo
Bolseiro (Martin Freeman), residente do Bolsão, no Condado, lar dos hobbits. Em
oposição à vidinha pacata desses pequenos seres que adoram festas e comida, o
mago Gandalf (Ian McKellen) traz 13 anões ao Condado para se juntarem ao hobbit
na missão de resgatar um grande tesouro perdido, em posse do terrível dragão
Smaug. Não só o tesouro dos anões, mas o próprio reino desses seres, Erebor,
foi tomado pela temível criatura, que agora o habita sozinho.
Muito se tem falado sobre a decisão de Jackson de
dividir uma obra como O Hobbit em três partes, sendo que apenas a primeira
delas tem duração de quase três horas. Motivos financeiros à parte, o diretor
aproveita o tempo de sobra que possui para adaptar a obra nos seus mínimos
detalhes, levando a quem assiste a adentrar (mais uma vez) com muita calma o riquíssimo universo de
Tolkien. Peter Jackson não deixa quase nada de fora, mas não o faz como um mero
exercício de colagem do livro, longe disso. Os espectadores que leram e viram a
saga de O Senhor dos Anéis conhecem a meticulosidade do diretor, que respeita e
se atém a obra sem se tornar submisso a ela, tornando-a bastante fluída. Os
universos de Tolkien e Jackson são diferentes e iguais ao mesmo tempo, eles se mesclam
de uma maneira raramente já vista no cinema fantástico.
Para provar o que eu estou falando, basta apenas
prestar atenção no cuidado que o diretor tem em recriar um Condado idílico
e pastoral, em oposição a uma Valfenda (lar dos elfos) belíssima, imponente e
ao mesmo tempo convidativa (quem não gostaria de morar lá?), que contrastam com
as asquerosas cavernas dos trolls e com os lares dos orcs e trasgos. As
batalhas entre o Bem e Mal continuam de tirar o fôlego, e mesmo alguns vícios
do diretor, como deixar a solução do conflito para o último segundo (apesar
desse aspecto deus ex machina ser algo que vem parcialmente da própria obra
literária), não desvalorizam o impacto e a urgência das batalhas, fazendo da
primeira parte de O Hobbit uma genuína película de aventura, daquelas bem
clássicas do gênero, porém contando com uma tecnologia de última geração para
os efeitos especiais.
Hoje em dia, é raro ver um diretor que não faz dos
efeitos especiais a marca principal de seu filme. O que geralmente vemos é uma
desculpa de enredo ser transformada em um campo de exibição dos efeitos mais
impressionantes lançados no mercado. Jackson vai contra a maré e valoriza,
antes de tudo, a história que está contando. Os atores sob o seu comando tem
espaço para ótimas performances. Martin Freeman faz de seu Bilbo Bolseiro um
personagem que vai se revelando aos poucos um hobbit destemido e companheiro,
acompanhado de um carisma irresistível, e Ian McKellen nos entrega mais uma vez
um Gandalf impecável. Os inúmeros novos personagens, a maioria deles anões, são
interpretados por atores que creditam bastante comicidade e simpatia a esses
seres meio rabugentos, meio solitários. O destaque vai, obviamente, para
Richard Armitage, que na pele de Thorin, Escuro de Carvalho, nos mostra através
de suas expressões e fala austera o quanto de sofrimento e raiva ele guarda em
si. Com participações relativamente menores, Cate Blanchett brilha
incrivelmente como Galadriel e Elijah Wood, Hugo Weaving e Christopher Lee
voltam aos papéis de Frodo, Elrond e Saruman, respectivamente, com bastante
competência, aproveitando ao máximo o pouco tempo na tela.
O desempenho de Andy Serkins como Gollum merece um
parágrafo à parte. O duelo psicológico entre ele e Freeman é a melhor sequência do
filme e muito provavelmente uma das melhores já dirigidas por Pete Jackson
dentro do universo da Terra-Média. Na literatura de Tolkien, a passagem em que
Bilbo acha o Anel e deixa o dono do precioso enlouquecido já era uma das mais
clássicas, e vê-la na telona com tamanha grandiosidade e eloquência imagética é
para deixar qualquer cinéfilo de queixo caído. O Gollum computadorizado
consegue ser ainda mais real e humano do que na trilogia anterior, com nuances
de emoções mais detalhadas, seja para o lado mais ‘cômico’ ou mais trágico da
criatura. É impossível esquecer os olhos alucinados dessa vítima do Anel.
Para finalizar, não dá para deixar registrado pelo
menos algumas palavras sobre a maravilhosa trilha do mestre Howard Shore,
colaborador de longa data de Pete Jackson. Shore segue a linha musical épica da
Saga do Anel (sabiamente retomando algumas faixas mais famosas), uma trilha
emocionante e energética que abarca com muita destreza cada parte da obra.
Desde corais gregorianos até os cantos melodiosos e líricos dos personagens, o
compositor confere uma riqueza ainda maior à película, criando uma verdadeira
sinfonia nas telas.
O mais novo filme de Peter Jackson é isso: rico,
eloquente, emocionante e belo. Que venha a segunda parte!
Para ouvir um pouquinho a belíssima trilha do filme:


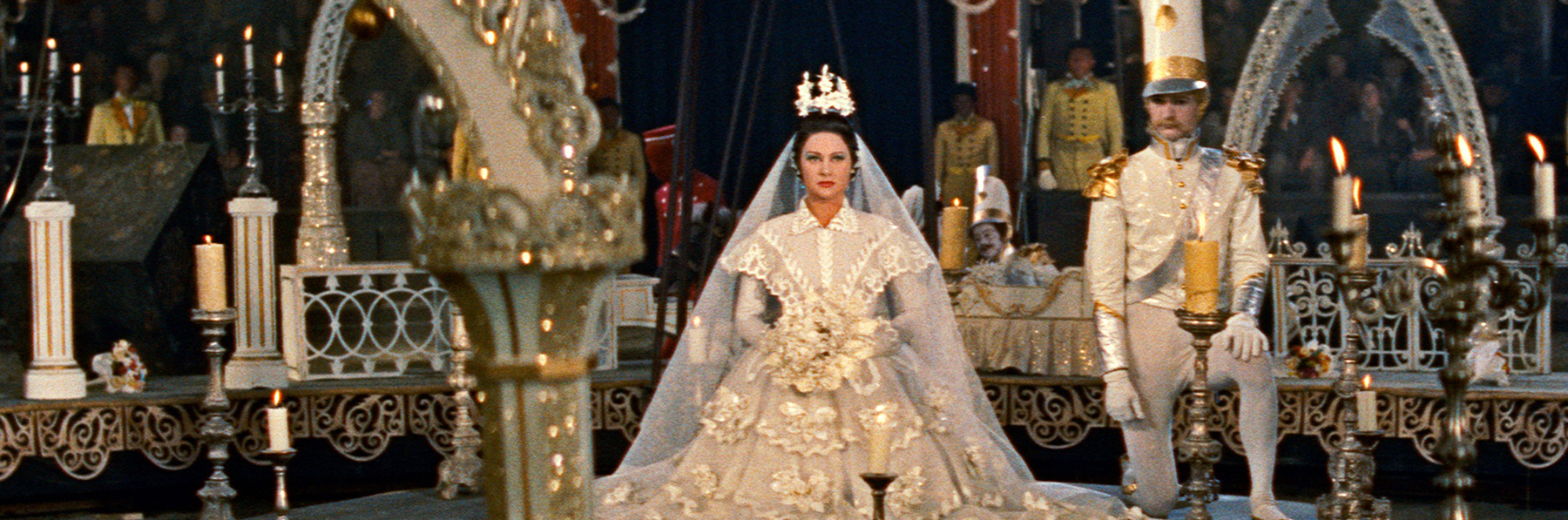
































































.jpeg)





.jpg)
























































+(1+de+294).jpg)


















































































































